


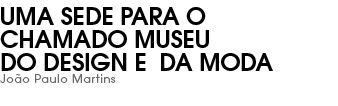
A recente inauguração da exposição Antestreia, que veio apresentar ao público as futuras instalações do MUDE – Museu do Design e da Moda/Colecção Francisco Capelo, suscita-nos alguns comentários e outros tantos pretextos para reflexões a desenvolver, que, creio, interessam ao universo disciplinar da arquitectura e da cidade. A história dessa colecção será vagamente conhecida nos dez anos que leva de divulgação mediatizada: a origem por iniciativa de um coleccionador privado; o acordo alcançado com o Ministério da Cultura para a instalar como Museu do Design, no Centro Cultural de Belém (CCB), com a perspectiva de uma futura doação (no mandato de Manuel Maria Carrilho, em 1999); o êxito das negociações para a sua aquisição pelo Município de Lisboa (em 2002-2003, sob a presidência de Santana Lopes); o consequente encerramento do museu no CCB e recolha às reservas, enquanto se anunciava a sua passagem para o antigo palacete Verride, no Alto de Santa Catarina (em 2006; projecto de transformação pelo arquitecto Alberto Caetano, com Manuel Reis); o cancelamento do projecto de Santa Catarina (após a impugnação da transacção do palacete e a vitória de António Costa nas eleições intercalares para a Câmara Municipal de Lisboa); a revelação do destino final do museu, integrado nos planos de revitalização da Baixa Pombalina (2008).
A abertura agora concretizada veio sinalizar o final de um longo período de quase silêncio. Por um lado, ao fim de seis anos de propriedade pública, a colecção de moda adquire algum protagonismo. Por outro, as intenções do actual executivo municipal para esta zona da cidade ganham especial destaque, num momento em que o calendário eleitoral parece comandar cada iniciativa. Por uma vez, mais do que um conjunto avulso de intervenções dispersas, parece haver uma estratégia concertada para revitalizar o centro de Lisboa transformando-o num pólo de indústrias criativas, capaz de espoletar um renovado sentido cívico e de reconquistar a atractividade que há muito se esvaiu. Para isto, e entre outras acções também anunciadas, importaria que, nas proximidades do MUDE, viessem estabelecer-se o Centro Português de Design, a ModaLisboa, a associação ExperimentaDesign e a Trienal de Arquitectura de Lisboa.
O MUDE veio agora reocupar o antigo edifício-sede do Banco Nacional Ultramarino (BNU), que se estende por todo um quarteirão, com um total de 14 000 metros quadrados distribuídos por oito pisos, a dois passos da Praça do Comércio, numa das localizações mais qualificadas da cidade. Testemunho dos tempos áureos em que esse era o banco emissor de moeda para as colónias (à excepção de Angola, a partir de 1926), estava há anos devoluto e expectante. Aquilo que hoje encontramos nesse quarteirão são sedimentos de sucessivas intervenções – tanto no interior como no exterior – que documentam a história da instituição, os contextos económicos que a enquadraram, mas também a cultura arquitectónica de cada tempo.
Após a Primeira Guerra Mundial, a economia portuguesa registou um curto período de afluência durante o qual a Baixa foi inundada por sedes de instituições bancárias, seguradoras e empresas comerciais.
Integrada nessa onda de transformações, a sede do BNU teve um primeiro projecto de remodelação (1918) assinado por Tertuliano La-cerda Marques (1882-1942). O arquitecto propunha uma linguagem grandiloquente, reinventada a partir da arquitectura palaciana do século XVIII. A obra não chegou a realizar-se e, dois anos depois, era aprovado um novo desenho do mesmo autor, com uma orientação estética radicalmente distinta. Pela primeira vez na história da Baixa, o padrão pombalino de fachada era revalorizado e seria objecto de uma reposição sistemática. Os alçados foram reunificados, substituídos todos os ele-mentos que até ao momento haviam sido alterados e demolidos todos os acrescentos acima do beirado. Os interiores, porém, foram completamente demolidos e transformados de acordo com o que se entendia se-rem as necessidades de um moderno edifício de escritórios. Os espaços passaram a organizar-se em torno de um grande vazio de planta octogonal, a toda a altura do edifício, com galeria envolvente e cobertura em clarabóia, como sucedera antes no Banco Lisboa & Açores (Ventura Terra, 1905), mas também nos armazéns Grandella & C.ª (Alfredo d’Ascenção Machado, 1891).
O segundo pós-guerra trouxe uma nova vaga de remodelações na Baixa que acentuou o imparável processo de monofuncionalização, pela substituição da habitação e do pequeno comércio por grandes conjuntos de escritórios. Só então o BNU passou a ocupar a totalidade do quarteirão, com projecto (1951-1967) de Luís Cristino da Silva (1896-1976). Os elementos estruturais fundamentais da intervenção de Tertuliano foram preservados e cumpriu-se o princípio de reposição das fachadas. A obra de Cristino, meticulosamente detalhada e construída, é visível, sobretudo, na entrada monumentalizada da Rua Augusta, no espaço de atendimento do público, no piso térreo, com o grande balcão em mármores coloridos. O vazio central foi obturado em todos os pisos e, no espaço que fora a clarabóia sobre o hall, foi construída a sala de jantar da administração, cujos interiores Daciano da Costa (1930-2005) foi chamado a conceber (1963-1964).
Como tantos outros edifícios do centro financeiro tradicional da cidade, a sede do BNU perdeu entretanto a função e o significado que lhe estivera associado. Entre as fusões do sector e a concorrência das novas expansões urbanas, o seu futuro foi sendo adiado. Nas mãos dos novos proprietários foi iniciada a demolição dos interiores (logo interrompida por acção do então IPPAR – Instituto Português do Património Arquitectónico) deixando à vista os acabamentos da obra de Tertuliano.
Responsáveis pelo actual projecto de instalação da colecção do MUDE, os arquitectos Ricardo Carvalho e Joana Vilhena, trabalhando em estreita articulação com a directora do museu, Bárbara Coutinho, foram especialmente sensíveis ao estado de semi-destruição que encontraram. Reduzindo a intervenção ao mínimo indispensável para mostrar as peças escolhidas, apostaram no uso de materiais que acentuam a natureza efémera da operação (bases em paletes de madeira, mesas em aglomerado de cortiça, fundos em tela de estaleiro de obra). Tiraram partido da imagem sedutora de ruína interrompida para, desse modo, acentuarem a descontextualização museológica dos objectos em exposição. Em contraste com a envolvente arquitectónica plena de patina e de história, de tensões acumuladas, sobrepondo usos e tempos, autores distintos, melhor nos apercebemos da aparência intocada, sem mácula e sem rugas (sem vida?), dos ícones da alta cultura do design internacional e da alta costura inacessíveis ao visitante comum. De imediato nos recordamos do Palais de Tokyo, transformado em Site de Création Contemporaine como ruína exposta, pelos arquitectos Lacaton e Vassal (2001). Mas também da Igreja de São Domingos, ali junto ao Rossio, exibindo, inquietante, as cicatrizes do incêndio que a vitimou.
O trabalho da dupla Carvalho e Vilhena vem revelar igualmente as limitações colocadas pelos velhos espaços de escritórios quando usados como salas de exposição. Depois desta primeira exposição-anúncio, o edifício será submetido a obras de remodelação que deverão adequá-lo a museu permanente, a abrir no final de 2010 (arquitecto Alberto Caetano). Para o piso térreo, prevê-se uma Loja do Cidadão. Uma tal mistura de funções irá dessacralizar a ideia de museu, sem dúvida, mas podemos legitimamente interrogar-nos se as duas funções serão de facto compatíveis. Será essa soma mais rica que a simples junção das suas parcelas? Será ela consequente, vital, mutuamente estimulante? Ou apenas um forçado casamento de conveniência? Como serão conciliados os constrangimentos de ambas as instituições (funcionais e da ordem dos significados) entre si e com o objecto arquitectónico escolhido para os acolher? Todo o processo implica uma reflexão sobre a reconversão e refuncionalização da arquitectura para novos programas, na relação que estes estabelecem com a preservação, a valorização e explicitação de memórias e heranças, com as tensões e contradições da história colectiva (isto é, sem branquear o passado). Sobretudo, tratando-se de um museu.
É inegável que uma colecção não é suficiente para fazer um museu. Tal como não basta a um coleccionador ter gosto para ganhar o reconhecimento da posteridade. É igualmente certo que não bastam um edifício notável preexistente e um arquitecto de referência para fazer um museu exemplar (são inúmeros os casos que o atestam, mesmo os recentes).
Os próximos passos do processo serão decisivos para que o Museu do Design a que aspiramos possa chegar a ser uma realidade. |