


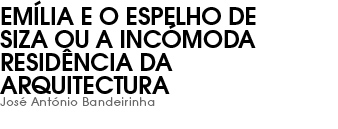
A arquitectura habita na política numa base permanente, se bem que inquietante (“[...] architecture can somehow never get out of politics, but must learn how to dwell in it on a permanent if uneasy basis [...]”). Fredric Jameson oferece-nos esta proposição num ensaio recheado de alusões comparatísticas que relacionam a arquitectura com outras artes, com outros bens de consumo, e que a posicionam coerentemente perante a economia e, claro, perante a política1. Trata-se de uma imagem que, independentemente do peso posto na sua validação, tem o significado acrescido de usar uma metáfora tão cara à própria teoria da arquitectura – “habitar” – para melhor precisar a situação de “encaixe” de uma em relação à outra.
Parece clara, quase irrefutável, a inserção da arquitectura no seio da política. É-o segundo duas escalas diferenciadas, embora complementares, de uma mesma matriz ontológica. Para além de ser, em muitos dos momentos que a cristalizam como disciplina, representação do poder, é a arquitectura, ela mesma, que se institui como acto de poder, no modo como domina a matéria, no modo como ordena o espaço, no modo como antecipa soluções. Essa é uma das suas condições de sobrevivência, felizmente não a única, está inscrita no seu código genético. Sempre que se tentou sonegar essa condição à arquitectura, e algumas tentativas houve, a coisa não correu lá muito bem. Mas acresce ainda outra circunstância, balizada por um patamar mais vasto de entendimento, que amarra a arquitectura ao interior da política. Ao propor-se organizar o espaço no qual se desenrola o quadro de vida dos indivíduos, a arquitectura fica inevitavelmente dependente das orgânicas sociais que regulam esses quadros de vida. É a sua condição programática primordial, é esse o sistema operativo genérico que estrutura e formata todas as encomendas particularizadas. “Habitar” na política significa então vincular a arquitectura a esse impulso fundamental da sua condição, tal como é colocada a questão da habitação humana no sentido heideggeriano2, e não apenas incluí-la dentro de um invólucro, como se de uma forma acidental ou de uma função determinada se tratasse.
Que a arquitectura habita na política resulta, então, claro. Que o faz numa base permanente também parece irrefutável, basta perceber como usamos os exemplos mais referenciados da história e da teoria da arquitectura, o modo como se interpenetram na história da economia, como, de resto, o faz Jameson, e antes o fez Tafuri e tantos outros, para perceber que estamos sempre a aludir ao contexto social e político da prática arquitectónica. Já há muito que, enquanto arquitectos e estudiosos da arquitectura, conhecemos e identificamos as grandes obras do passado, mas a partir do momento em que começámos a balizá-las através da estrutura política e económica das sociedades que as viram construir, passámos a olhá-las de um modo mais preciso, passámos a aprender muito mais com elas.
Tomemos então como dado que a arquitectura habita na política e que o faz numa base permanente. Jameson, contudo, ainda acrescenta que o faz de um modo inquietante, não confortável – uneasy –, para ser mais preciso. Porque será então que a arquitectura se sente desconfortável na sua própria habitação? Será que, ao tomarmos a tal base permanente que subjaz à sua relação com a política, esse deconforto sempre existiu, ou foi variando com os tempos?
Parece óbvio que a frase original nos responde, desde logo, à segunda destas perguntas; ao afirmar que a arquitectura tem de aprender – must learn – a habitar na política, Jameson deixa subentendido que nem sempre foi assim, é-o na circunstância actual e, desse modo, tem de haver lugar a uma aprendizagem para enfrentar uma situação que é nova. Quando terá começado essa sensação de desconforto, de inquietação, da arquitectura em relação à política?
Fatos de gala
Podemos especular e tentar perceber se, de acordo com a teoria que deriva da tradição moderna, esse momento se situa no final do Ancien Régime. O uso que os poderes aristocrático e religioso faziam da arquitectura foi equivocamente entendido pela burguesia em ascensão, que se preocupou demasiado com a apropriação dos aspectos mais formais desse uso, imitando-os, reproduzindo-os, sistematizando-os em intermináveis elencos taxonómicos, sem prestar muita atenção à essência política e económica das novas relações, inerentes à especificidade da transformação social. Podemos, então, pensar se essa adaptação a objectivos de representação do poder de uma determinada classe, usando sistematicamente as imagens amalgamadas dos diversos status anteriores, escolhendo-os por vezes à la carte, não terá sido um momento determinante na causa desse incómodo. Quem não se sente deslocado com um fato de gala numa festa fatela?
Podemos, porém, prolongar o desconforto até mais tarde. Tafuri, por exemplo, refere uma crise que começa precisamente no período que se seguiu ao crash de 1929, quando o que ele considera o “destinatário natural” da arquitectura “– o grande capital industrial – [que] supera a sua ideologia de fundo, pondo de parte as superestruturas”. Desde então, a ideologia arquitectónica sente esvair os seus próprios desígnios, subvertendo-se em realidade e buscando ansiosamente um valor operativo. A obsessão de “ver realizadas as suas hipóteses torna-se, ou numa mola para a superação de realidades retrógradas, ou em incómoda perturbação”3. Embora com novas roupas, perfeitamente adequadas à circunstância, a arquitectura, enquanto resposta mercantil directa aos desígnios do modo de produção vigente, terá então, e de acordo com Tafuri, ficado ansiosa, devido ao receio de, mesmo assim, poder ser considerada a despropósito.
Demissões assumidas
Depois da Segunda Guerra Mundial, e no quadro das políticas de realojamento e de reconstrução, geram-se algumas interacções entre disciplinas, em particular entre a arquitectura e a sociologia, no sentido de poder contar com métodos de projecto mais sensíveis à participação dos utentes, ou dos moradores, no caso específico da habitação. A tendência para considerar os destinatários da arquitectura na sua especificidade sociológica, quer individual, quer em grupo, desenvolve-se, então, como contraposição à ideia moderna de homem novo, padronizado sob o ponto de vista físico e social.
Em França, a partir de 1944, no seio do novo Ministère de la Réconstrution et de l’Urbanisme vem a trabalhar um vasto leque de especialistas, com o intuito de conseguir instrumentos de planeamento geradores de sinergias verdadeiramente pluridisciplinares. Entre esses colaboradores – economistas, demógrafos, médicos, antropólogos, pintores e escultores – contava-se o sociólogo Paul-Henry Chombart de Lauwe, que aproveitou aquelas condições laboratoriais únicas para iniciar um processo de investigação acerca das metodologias de inquérito prévio ao exercício do projecto. Os objectivos principais desse inquérito estavam marcados pela ambição de uma colaboração mais operativa entre sociólogos e arquitectos.
No final dos anos sessenta, já essa investigação se fundamentava em constatações firmes, amadurecidas por um conhecimento profundo dos processos de evolução e de transformação das cidades4. Chombart de Lauwe argumentava que, no âmbito do ordenamento do espaço, não era possível definir com exactidão as noções de necessidade e de aspiração, uma vez que fazê-las derivar directamente da consulta directa às populações poderia não exprimir nem as verdadeiras necessidades, nem, muito provavelmente, as aspirações futuras. Achava, porém, que negar a existência de necessidades era fazer o jogo daqueles que projectavam as suas próprias aspirações e as da sua classe no terreno de toda a sociedade, concretizando-as com a pretensão de o fazer no interesse geral.
Sob o ponto de vista da sociologia, preconizava, portanto, novos meios de estudo que lhe permitissem analisar, por um lado, as relações entre os comportamentos da vida prática e as aspirações expressas, sabendo que estas não passavam de representações, de meras imagens, e, por outro, estudar as transformações económicas, demográficas, sócio-institucionais e o modo como se confrontam com as mudanças de sistemas de valores e de visão do mundo, testemunhadas pela análise dos conteúdos da imprensa, da literatura e de outros meios de comunicação.
Preconizava, portanto, a substituição do modo de decisão autocrático, exclusivo das cúpulas, por um outro, mais democrático, que permitisse criar canais de comunicação ascendentes, através dos quais se pudessem exprimir as aspirações das bases. As decisões tomadas pelas cúpulas não poderiam correr o risco de responder directamente aos desejos do momento, expressas pelos inquéritos de opinião, o que seria infantil, mas deveriam, em sua opinião, tentar ajustar-se progressivamente aos processos de evolução estudados de um modo infinitamente mais complexo.
Esse seria o caminho para que os seus contemporâneos deixassem de ter uma visão catastrófica dos processos de urbanização e passassem a contemplar a cidade de um modo mais sereno. Fazer com que sentissem que o ordenamento dos espaços em vez de ser pensado para eles – pour eux – fosse pensado com eles – avec eux – e por eles – par eux – era o primeiro passo para construir uma sociedade e um espaço que permitissem aos homens de todas as classes aproveitar verdadeiramente as vantagens materiais e culturais que advinham do desenvolvimento da produção5.
A ideia de uma participação mais activa dos destinatários da arquitectura surgia, pela via das ciências sociais, como uma forma de conferir maior base de credibilidade à disciplina, alargando a sua capacidade de interferência social, tradicionalmente limitada ao papel de resposta às encomendas do poder. Mas, estimulado por esse alargamento de base social, depreendia-se sempre do sentido do debate disciplinar uma tendência para considerar que, além dessas constatações, estavam incentivos metodológicos capazes de romper com a inércia de motivos inovadores na produção arquitectónica propriamente dita.
Este tema de um novo compromisso da Arquitectura para com as “verdadeiras” aspirações da população vai sendo desenvolvido, de um modo muito intenso, ao longo dos finais da década de sessenta e do início da de setenta. Ora teorizando em volta das potencialidades geradas por uma anunciada “democratização” da Arquitectura, ora ampliando e divulgando os movimentos sociais que se vão desenvolvendo em torno do direito à cidade e da melhoria das condições de vida. Sobretudo na Europa e nos EUA, várias são as vozes que se erguem por uma participação mais activa das pessoas nos projectos que decidirão os destinos dos seus bairros, das suas cidades.
Da reflexão sociológica que se desenvolve então acerca da questão das aspirações e das necessidades das populações, sobressaem ainda as obras e os pensamentos de Henri Lefèbvre e de Manuel Castells.
Preocupado com a vastidão cognitiva que lhe permitisse uma leitura das aspirações, Lefèbvre foi também levado a concluir que os arquitectos, emblematizados pela ambição de síntese dos mestres modernos, particularmente Le Corbusier, se tinham em conta como arquitectos do mundo, jogando com uma visão cosmogónica e metafísica do habitat e fazendo uso de uma perspectiva limitada a horizontes do pensamento já ultrapassados6. Acusava-os de confundir a cidade com um sistema de significações, de projecções no papel, de visualizações e, também ele, afirmava que não seria de todo impossível aos analistas da realidade urbana agrupar os dados fragmentários que possuiam e confiá-los à redenção da programação computorizada7. Só a vida social, a praxis, na sua capacidade global, possuiria a capacidade de criar formas e relações novas. Nem o arquitecto, nem o sociólogo, nem o filósofo possuíam essa capacidade taumatúrgica; não poderiam criar relações sociais. Poderiam, separadamente ou em equipa, desbravar o caminho, poderiam propor, testar, preparar as formas, mas, sobretudo, poderiam inventariar a experiência adquirida, ajudar ao parto do possível, através de uma maiêutica alimentada pela ciência8.
Sem a confirmação do novo sentido das práticas urbanas, capazes de inverter a diferença conceptual entre o “produto” e a “obra”, a arquitectura, enquanto expressão das aspirações, como lhes chamara Chombart de Lauwe, não teria qualquer expressão libertadora, antes se assumiria inevitavelmente como instrumento da dominação tecnocrática, ao serviço da produção, completamente desfasada das necessidades da urbanização.
Com a consagração de uma nova prática, fundamentada pelo valor de apropriação que é apanágio da “obra”, a Arquitectura perderia o paradigma de excepção, tributário da especialização e da divisão do trabalho, e diluir-se-ia de modo transparente, na própria essência do campo social. Nenhuma remissão seria concebível, no quadro do modo de produção vigente, uma vez que a própria disciplina, alienada do paradigma da “obra”, em detrimento do de “produto”, se tinha deixado arrastar pela torrente das relações de produção capitalistas.
Castells, por seu lado, afirmava que, para que as práticas reivindicativas pudessem ser realmente consequentes, era necessário conceber formas de oposição que ultrapassassem o âmbito restrito da “reacção dos utentes”, articulando-as com o conjunto das contradições sociais, e pondo em questão, simultaneamente, as condições que determinavam a fixação de objectivos nos movimentos sociais urbanos.
Quanto às questões da participação, tão prolificamente debatidas na época, elas não poderiam ser consideradas relevantes, uma vez que o planeamento, segundo Castells, não era uma “ciência normativa das boas formas urbanas”, mas antes, um “meio de controlo social da ordem urbana, conseguido através de intervenções dependentes de instituições administrativas e políticas, […] de instituições investidas de autoridade”9. Nesse sentido, o planeamento corroborava a intervenção do sistema político sobre o sistema económico, sobre um campo de actuação social e espacial específico, servia para regular o processo de reprodução da força de trabalho e o da reprodução dos meios de produção, intervindo nas contradições que fariam perigar a subsistência das formações sociais vigentes. As consequências sociais e espaciais de um tal processo regulador não seriam seguramente optimizadas devido a uma maior ou menor participação dos “interessados” ou dos “habitantes” ou dos “utentes”.
A participação, no sentido “apropriador” que lhe dava Lefèbvre, servia-lhe, isso sim, para ajudar a sistematizar alguns conceitos na perspectiva da sociologia urbana, como o conceito de centro. Na probabilidade da existência de uma comunidade urbana, as relações de interacção que se estabelecem entre sociedade e espaço seriam expressas pela organização social através da centralização de símbolos e da constituição de um sistema de comunicação, ao qual não seriam alheios os valores, também eles centralizados, da participação.
Nas décadas de sessenta e setenta do século XX, esse desconforto da arquitectura em relação à residência própria, a política, foi levado à exaustão, chegando, nalguns casos a ser muito mais que desconforto, a ser um mal-estar tão intenso que poderia levar à depressão ou à demissão. Se, por um lado, o corpo teórico da Arquitectura se voltava para o campo das ciências sociais e humanas no intuito de aprofundar as complexidades da sociedade destinatária, por outro, a investigação subjacente à prática disciplinar pendia seriamente para a simplificação de processos tendente à almejada massificação da capacidade construtiva, sobretudo no que respeitava ao alojamento das populações mais pobres. A ânsia de se inscrever numa esfera de acção liberta do sistema capitalista, mais dedicada ao “povo”, levava a arquitectura a confrontar-se com situações de impasse e, muitas vezes, de contradição. Dois momentos sintomáticos servem ainda para ilustrar o estado da disciplina nesses tempos.
Em primeiro lugar, o livro-panfleto que o historiador e crítico de arquitectura Michel Ragon publicou em 1977, L’Architecte, le Prince et la Démocratie, no qual prenuncia o fim do arquitecto ao estilo “miguelangeliano”, o autor demiurgo que trabalha para o Príncipe, e o advento de um novo profissional, que trabalha para os habitantes dos bairros pobres, que renuncia ao uso de uma linguagem técnica hermética, que não utiliza argumentos paternalistas, que se submete sempre às decisões últimas da população organizada. Michel Ragon acusava os mestres do Movimento Moderno de terem fornecido aos poderes armas de coerção terríveis, que lhes permitiriam fazer uso de nada menos do que uma ideologia – “idéologie de la contrainte urbaine et de l’habitat carcéral”10. Achava que, embora de uma forma involuntária, simultaneamente ingénua e assoberbada, ao fazerem uso de ideias “aparentemente” progressistas, estavam na realidade a dar ao poder político os instrumentos arquitectónicos e urbanísticos necessários a uma política repressiva, segregacionista e reaccionária. Acreditava também que a tradição utópica, e aquilo a que chamava “socialisme autoritaire”, estavam na origem dos contrangimentos urbanos e de todas as maleitas de que enfermava o espaço “concentracionário” e agradecia aos sociólogos e aos filósofos por terem feito ver aos arquitectos os “erros” e as noções “aberrantes” que infestavam o caminho por onde tinham enveredado11.
Em segundo lugar, um outro texto, este de Oriol Bohigas, intitulado Contra una Arquitectura Adjectivada, veio a terreiro classificar todos estes tipos de deriva populista como “equívocos progressistas”. O arquitecto catalão reagia ao modo simplista como se tentava processar a imisção dos objectivos políticos e sociais nos conteúdos metodológicos e disciplinares da Arquitectura. Perante um crescente número de arquitectos que balizavam a sua obra em função das potenciais mudanças nas estruturas sociais de nível superior, empunhava a substância do corpo disciplinar, e a rigorosa consciência dos seus limites, clarificando que essas atitudes relegavam a arquitectura para uma posição de paralelismo enfático que esvaziava a sua matéria central. Bohigas achava que a contribuição metodológica das ciências sociais se estabelecia, na maior parte dos casos, de um modo muito primário, através da mera avaliação analítica das apetências dos utentes para justificar esta ou aquela opção de desenho e, por essa razão, era sempre predadora das possibilidades de uma evolução da arquitectura nos limites estritos do seu próprio terreno. Perguntava: “¿No ha llegado el momento de estabelecer una colaboración de las ciencias sociales a un nivel más allá de la radiografía inmediata?”12. Esse momento era, realmente, necessário. O que Bohigas, no fundo, sentia, e tentava lucidamente estancar, era a progressão da brecha que separava dois campos antagónicos, nos quais a actividade da organização do espaço era avidamente solicitada. Num deles predominava uma arquitectura autista, comodamente instalada nas premissas metodológicas e programáticas tradicionais, substituindo, quando muito, as convicções sociais modernas pelas necessidades de mercado e de conveniência política. Era contra esse que, desde o pós-guerra, se vinham erigindo as críticas das ciências sociais. No outro campo, por oposição, a Arquitectura mostrava-se tão ávida de contaminação directa com outros universos epistemológicos que acabava por se diluir completamente neles, deixando de fora qualquer possibilidade de remissão ou de afirmação autonómica.
Os textos de Ragon e de Bohigas são representações evidentes de acção e reacção à circunstância que emoldurava então o exercício da Arquitectura, marcada por jogos de antagonismos polares e de contradições extremadas. Entre a crise produtiva e a demissão formal, entre a insegura recusa da aventura moderna e a procura de um centro disciplinar que pudesse ser resgatado pela definição de objectivos sociais mais ousados, a Arquitectura percorria, assim, uma via desconfortável que, por vezes e paradoxalmente, parecia pender para o descentramento do objecto disciplinar, pondo em causa o próprio sentido da actividade arquitectónica. Um dos mais comuns desses descentramentos era o que desafiava a Arquitectura para o cumprimento de objectivos sociais que ela, no âmbito restrito da sua actuação, nunca poderia alcançar, provocando assim impasses e frustrações que, frequentemente, levavam à perda de sentido e à demissão. Os sentidos para que tendia o debate arquitectónico durante os anos sessenta e princípios de setenta, sublimados por premissas de raiz antropológica ou sociológica, remetiam muitas vezes o corpo central da disciplina para algo que estava aquém e além dela – a imensidão das relações psicológicas e sociais dos indivíduos e das suas comunidades; sobrepondo os contextos aos objectivos, remetiam-nos também para a afirmação conceptual de uma actividade que se revia mais nas margens humanas e ideossincráticas que a conformam do que no seu objecto real, propunham-nos a existência de uma meta-arquitectura, mais do que uma arquitectura propriamente dita, no complexo e fluido entendimento da história e da tradição epistemológica.
Sim ou sopas
E, mais recentemente, como é que a Arquitectura tem enfrentado essa tensão de crescente incomodidade para com a política?
De muitas e variadas formas, dependendo dos igualmente variados contextos sociais, económicos e políticos. é, contudo, inquestionável que os fluxos populistas que, com maior ou menor intensidade mas sempre em estreita cumplicidade com os empórios mediáticos, emergem das políticas que governam as democracias do tipo ocidental, têm tido um carinho muito particular para com a arquitectura. São muitos e muito profícuos os estudos no âmbito das ciências sociais que têm sido dedicados a este novo populismo mediático, valha, para o efeito que aqui nos interessa, a síntese eloquente de Umberto Eco: “O populista identifica os projectos próprios com a vontade do povo e depois, se os leva avante (e muitas vezes leva) transforma um bom número de cidadãos, fascinados pela imagem virtual com a qual acabam por se identificar, nesse povo que ele próprio inventou.”13
Dado o esvaziamento de conteúdos programáticos firmes, os governos democráticos contemporâneos, quer sejam locais ou nacionais, tendem para a degenerescência da esfera decisória, vertendo-a em gestos de mera simulação, com o intuito de dissimular a importância real da política, no sentido tradicional do termo. Contam, para isso, com a plena cumplicidade dos meios de comunicação de massas. Assim sendo, e como lhes estão vedadas as pulsões despóticas contra as quais se instituíram, fazem da necessidade de legitimação absoluta do exercício do poder a sua condição de sobrevivência. Esta é a razão pela qual o populismo se está a tornar um problema endémico das democracias massificadas modernas14.
No cíclico confronto eleitoralista entre a capacidade de “fazer” e a capacidade de “agradar”, a arquitectura, quando “bem” usada, tem a excepcional qualidade de se afirmar como síntese perfeita. Por isso é cada vez mais utilizada, mas, também por isso, é-o cada vez com mais e maiores cautelas. O receio de que as obras não agradem desperta, na maior parte das vezes, um conjunto de fantasmas. Perante o assomo desses receios, é, então, necessário tomar medidas que, normalmente, radicam na necessidade imediata e obsessiva de debates, consultas, referendos, mediatização de opiniões, votações em linha, auscultações públicas decretadas, auscultações públicas informais, enfim, uma parafernália de iniciativas que, de modo excessivamente burocrático, por vezes infocrático, visam mais a simulação mediática da participação pública do que o esclarecimento cabal, a informação rigorosa e o consequente debate. São decisões políticas que ganham o estatuto de “batata quente”, que é necessário passar a alguém, corresponsabilizando esse alguém pela acção, no caso de “dar para o torto”15.
Por um lado, correspondem a tomadas de posição inseguras acerca de problemáticas sociais complexas e contraditórias ou acerca de investimentos na cidade ou no território. Raramente se referem, por exemplo, às verbas a orçamentar para a saúde, ou para a educação16. Por outro lado, no que toca à arquitectura, e mais especificamente, no que toca a Portugal, essas tentativas de simular a partilha de decisão, dizem sempre respeito a projectos de excepção, a programas dedicados à cultura, a intervenções estruturantes e complexas, nunca se referem à grande mole de intervenções medíocres e rasteiras que, quotidianamente, molda o espaço das cidades e do território em geral.
Participação, ambiente, sustentabilidade, património...
Associados a estas práticas de decisão política estão também alguns conceitos usados e abusados pela concomitante difusão mediática, nem sempre do modo mais esclarecedor. Pelo que diz respeito ao campo de acção estratégica e às premissas metodológicas que lhe estão subjacentes, são frequentes as alusões à “participação” e à “cidadania”. Pelo que diz respeito aos objectivos da acção política são muito comuns as alusões ao “património”, ao “ambiente” e, mais recentemente, à “sustentabilidade”. Tomados isoladamente ou em conjunto, estes conceitos esbatem-se no frenesim mediático a que estão sujeitos e, pior que isso, degeneram frequentemente em equívocos e pressupostos que deformam a sua essência de base.
Designamos habitualmente por participação todo o tipo de recursos que as pessoas utilizam para intervir directamente nas decisões políticas dos governos democraticamente eleitos, sobretudo quando essa intervenção se insinua como reforço e complementaridade da acção eleitoral clássica, também designada como democracia representativa. A participação pressupõe a ampliação da capacidade de acção das pessoas nas decisões que lhes dizem respeito a um nível mais além da escolha dos órgãos de Governo, por eleições democráticas. Embora consuetudinariamente instituída nas democracias de raiz histórica, ganha peso e dimensão global a partir das décadas de setenta e de oitenta do século XX, quando os governos democráticos se generalizam por todo o mundo e a chamada democracia representativa passa a ser recomendada, ou mesmo imposta, pelas grandes agências internacionais, para efeitos de acesso a empréstimos e a programas de cooperação. Passa então a assumir-se como o complemento democrático da representação eleitoral, como meio dos indivíduos participarem nas decisões políticas e não apenas na escolha dos decisores17.
Hoje em dia, um pouco por todo o mundo, proliferam dinâmicas associativas que, através dos mais diversos métodos e nos mais variados raios de acção, afirmam como objectivo participar activamente nas decisões políticas. Mesmo relutantes, e, em primeira instância, estão-no, os poderes democráticos não podem, contudo, ficar indiferentes a essas dinâmicas. Tentam então integrá-las no quadro legislativo, tentam dar-lhe representatividade institucional no plano da governação. Quando conseguem, e frequentemente conseguem, abatem dois coelhos de uma só cajadada, ou seja, legitimam o poder e co-responsabilizam o eleitorado por decisões que se afirmavam, à partida, como polémicas.
Mas, para o fazerem, têm, como já foi dito, de contar com a cumplicidade absoluta da comunicação mediática massificada. Não uma cumplicidade doutrinária como o tentavam fazer as ditaduras, antes uma cumplicidade que pressupõe como matriz conceptual a dicotomia simplista, que usa e abusa da polaridade contraditória em detrimento da complexidade dos argumentos e da nuance opinativa. Veja-se o êxito estrondoso que os auto proclamados debates, esses do tipo “sim-ou-sopas”, gozam nas principais cadeias televisivas, argumentos radicalmente a favor, argumentos radicalmente contra, um moderador malcriado, o resto são tretas.
Por outro lado, quando existem conceitos em jogo, e quase sempre existem, a cartilha populista obriga a despi-los de todas as complexidades que lhes são inerentes, só os usa quando consegue reduzir o seu significado a duas ou três ideias feitas, estáticas e inibidoras de toda e qualquer reflexão mais aprofundada.
“Participação” é o direito que os cidadãos têm de intervir nas decisões dos governos democráticos; jamais pode correr o risco de ser entendida como uma forma de legitimação do poder num quadro de governação programaticamente vazio e culturalmente populista.
“Cidadania” é o exercício dos direitos e das responsabilidades inerentes à plenitude da vida democrática; jamais pode ser entendida como doutrina de referência de um conjunto de movimentos de reforma ética do capitalismo, que ambicionam aliviar os seus efeitos, meras contingências de um sistema de dominação que se acredita poder melhorar moralmente18.
É também deste modo que, na maior parte das vezes, as coisas são postas quando se trata de decisões políticas que envolvem arquitectura, ou organização do espaço, nas sociedades contemporâneas. Mas, contrariamente aos pressupostos confessos deste tipo de acções populistas, que alegadamente visam a ampliação do debate e da decisão para plataformas de grande alcance populacional, cada vez que uma área temática mais “quente” emerge, assim que se pressente um qualquer assunto mais susceptível de gerar polémica na hora da decisão política, logo emerge também uma elite “altamente especializada” de peritos naquela matéria específica.
Esses especialistas, associados em suportes corporativos, virão depois reivindicar e, na maioria das vezes, obter, papéis de preponderância, quer nos debates, quer nas esferas de decisão, relegando para o plano meramente simbólico todo o contingente de acções de consulta e de debate em torno dos interesses das populações.
A partir do momento em que se começam a debater decisões referentes a “questões de património”, por exemplo, começam também a proliferar os “especialistas de património”. Nunca houve tantos! Escusado será dizer que, cada vez mais, os estudos especializados se adequam que nem uma luva às intenções prévias do poder.
Quando, por sua vez, se generalizam os debates acerca do impacto ambiental das intervenções arquitectónicas, surge, num ápice, um sem número de “especializações” em arquitectura “ambientalmente correcta”. Concomitantemente, cada vez são mais numerosos os estudos de impacto ambiental que, pela positiva ou pela negativa, corroboram, com propriedade “científica”, aquilo que o poder quer ouvir para viabilizar ou impedir investimentos públicos.
Assim que o conceito de “sustentabilidade”, subjacente à ideologia de auto-regulação dos mercados, se reproduz directamente no âmbito dos estudos sobre produção e consumo de energia, logo assoma uma ladainha infinita de especializações em arquitectura “sustentável”, logo surgem medidas legislativas associadas a interesses hegemónicos dos mercados da construção e da produção de energia.
Todos os pretextos são bons para falar de arquitectura
Quer isto dizer que todos os esforços em prol da ampliação da capacidade participativa das comunidades são vãos? Que não se devem fazer debates, que se deve evitar ao máximo a consulta pública? Que as decisões acerca da arquitectura e da organização do espaço de uso público devem ser soberanas, sem qualquer hipótese de discussão?
Não, quer dizer precisamente o contrário. Quer dizer, primeiro: que essas acções são ainda poucas e muito redutoras nos seus propósitos e na sua excessiva institucionalização. Segundo: e citando de memória Vittorio Gregotti, como todos os pretextos são bons para se falar de arquitectura, não se devem perder estas oportunidades para o fazer. Terceiro: quando, de modo paternalista, são destinadas a uma população que, alegadamente, não absorve complexidades e, por essa razão, são reduzidas a uma ou duas dicotomias polares perfeitamente absurdas, quando são emitidas e promovidas por quem, com presunção, avalia a inteligência dos destinatários pela bitola da sua própria capacidade intelectual, então, sim, então têm um grande potencial de inutilidade.
A arquitectura sempre se deu mal com as simplificações dicotómicas extremadas e a Teoria da Arquitectura, em particular, sempre se deu muito mal com esse tipo de supressão artificial das complexidades. Françoise Choay tem alguma razão quando diz que as práticas da organização do espaço se deviam despir de um certo discurso de legitimação pseudo-filosófico que frequentemente se apropria de noções erráticas e descontextualizadas para justificar opções e formas autorais19, mas é preciso também ter em conta todo o potencial que essas “roupagens” lhes conferem como desvio catártico da condenação a habitar os pavilhões do poder, como fuga à ribalta simplista do sim ou do não, do pró e do contra. É uma necessidade de legitimação, sim, uma vontade de subsistir, ou de parecer subsistir, como actividade intelectualmente séria e ontologicamente inabalável. É o contrário de um desfile carnavalesco ou de um cortejo de Queima das Fitas.
Demissões induzidas
Mas se estas mediações, que pressupõem uma relação tripartida entre os governos, os eleitorados e as práticas arquitectónicas, são causas directas de inquietação, temos ainda a considerar algumas causas crónicas, deduzidas das mudanças tecnológicas registadas no sistema global, que provocam a subida dos níveis freáticos sob a fundação de alguns valores que foram dando coerência e sentido ao carácter verdadeiramente político do exercício da Arquitectura. Nada mais, nada menos do que a extinção do espaço físico como matéria da disciplina, que alguns profetas advogam num arremedo holístico ainda pouco fundamentado, como consequência do alastramento da chamada tecnologia das comunicações. Ou, mais palpável e tão glosada pelas neovanguardas contemporâneas, a ameaça de aniquilamento que paira sobre o estatuto do espaço público, frente arquitectónica e construída do republicanismo kantiano, tal como o entendera Habermas20 e, antes, Hannah Arendt21.
Tudo concorre, portanto, para o incómodo, para a inquietação, para o desconforto que a arquitectura sente na sua permanente “morada” política. É uma sensação que depende, sem dúvida, das cumplicidades intrínsecas que, sob o ponto de vista histórico, a fidelizam nessa relação residencial, mas que actualmente se encontra sobremaneira enredada já não no poder em si, mas no envolvimento mediático que o alimenta e lhe dá substância. Daí que nunca antes essa sensação fosse tão intensa.
O título
Ah! O título. Emília é a senhora que, de modo eficiente e cuidadoso, cumpre, há já muito anos, a função da limpeza na minha casa. Num dos compartimentos, em cima de uma cómoda, tenho aquele pequeno espelho pentagonal do Siza que se apoia precisamente sobre o lado mais pequeno do pentágono, ou sobre o assotamento de um dos ângulos do quadrado, como preferirem. Acontece que a Emília, depois de limpar o compartimento, deixa o espelho apoiado sobre um dos outros lados, sempre. E sempre sobre o mesmo lado. A ponto de se ter tornado quase um ritual, a Emília deixa o espelho apoiado sobre um dos lados e, após a limpeza, lá vou eu repor o espelho, como eu penso que está instituído que seja. Mas isto já dura há tantos anos... que eu próprio começo a duvidar. De mim, do Siza, do espelho, enfim, a persistência da Emília faz-me vacilar. Hesitante e inseguro que estou, tomo uma decisão como dono da casa, democrático que também me prezo de ser. Vou fazer um referendo. Ponho a circular uns folhetos A5 nos quais explico, em termos simples e sucintos, as vantagens e desvantagens de uma e de outra posição do espelho. Criei um blogue, chamado Espelho para cima/espelho para baixo, que já tem catorze posts e vinte e sete visitas. Está a chegar a hora da votação. Estou ansioso por saber em qual das posições vota a Emília. |
______________________________________________
1 Fredric Jameson. Is Space political? In DAVIDSON, Cynthia, ed. Anyplace. Cambridge, Mass. : MIT Press, 1995, p. 192.
2 Martin Heidegger. Essais et conférences. Paris : Gallimard, 1980. (1ª. ed. francesa, 1958).
3 Manfredo Tafuri. Projecto e Utopia. Lisboa : Presença, 1985. Tít. orig.: Progetto e Utopia. (2ª ed. orig. rev. e aum. 1973), p. 92-121.
4 Paul-Henry Chombart de Lauwe foi autor, entre inumeráveis escritos, relatório e artigos, de: Des hommes et des villes, Paris, Payot, 1963; Paris , essais de sociologie, Paris, Editions Ouvrières, 1965; Pour l’université, Paris, Payot, 1968; Pour une sociologie des aspirations, Paris, Denoël, 1969, e “Le développement anarchique des grandes agglomérations est une cause supplementaire de tensions et de troubles”: Le Monde Diplomatique, Fevrier 1970.
5 Paul-Henry Chombart de Lauwe. Espace social et urbanisme des grandes cités (1952). In Marcel Roncayolo; PAQUOT, Thierry, dir. Villes & Civilisation Urbaine XVIIIe-XXe Siècle. Paris : Larrousse, 1992, p. 353-355.
6 Henri Lefebvre, Le Droit à la ville suivi de Espace et politique. Paris : Gallimard, 1974. (1ª. ed. 1968), p. 50.
7 Ibid., p. 73.
8 Ibid., p. 111-112.
9 Manuel Castells. Problemas de Investigação em Sociologia Urbana. Lisboa : Presença, 1975, p. 213.
10 Michel Ragon. L’Architecte, le Prince et la Démocratie. Paris : Albin Michel, 1977, p. 35.
11 Ibid., p. 36-39.
12 Oriol Bohigas. Contra una Arquitectura Adjetivada, Barcelona : Seix Barral, 1969, p. 111.
13 Umberto Eco. A Passo di Gambero. Guerre Calde e Populismo Mediático. Milão : Bompiani, 2006, p. 126 (trad. livre). Existe ed. em português: ECO, Umberto. A passo de caranguejo. Trad. Ana Eduarda Santos. Miraflores : Difel, 2007.
14 Helmut Dubiel. The Populist Moment. In Michael Shamiyeh; DOM RESEARCH LABORATORY, ed. What People Want. Populism in Architecture and Design. Basileia : Birkhäuser, 2005, p. 39-45.
15 Robert Pfaller. How to Be and not to Pop. Why are some populations populist and others aren’t? In Michael Shamiyeh; DOM RESEARCH LABORATORY (ed.), What People Want. Populism in Architecture and Design, Basel, Birkhäuser, 2005, p.47-55.
16 Excepto quando se inserem em políticas autárquicas que seguem o regime do Orçamento Participativo, cujas acções conseguem, na maioria das vezes, ampliar o âmbito da esfera decisória para patamares de discussão mais democráticos. Acerca das políticas de orçamento participativo há uma bibliografia extensa e constantemente enriquecida, vd. Boaventura de Sousa Santos. Democracia e Participação: O caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Porto: Afrontamento, 2002.
17 Boaventura de Sousa Santos. Democracia e Participação. O caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre. Porto : Afrontamento, 2002. P. 7.
18 Manuel Delgado. Sociedades movedizas: pasos hacia una antropología de las calles, Barcelona : Anagrama, 2007. p. 219-220.
19
Françoise Choay. Pour une Anthropologie de l’Espace. Paris : Éditions du Seuil, 2006, p. 111-116
20 Jurgen Habermas. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society (Studies in Contemporary German Social Thought). Cambridge, Mass. : MIT Press, 1991.
21 Hannah Arendt. The Human Condition: Chicago, The University of Chicago Press, 1998. (1ª ed. 1958).